Migrante/Outro: a violência da ‘Europa Fortaleza’
Francisca Martins
Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, 3ºAno - NOVA FCSH
francisca_martins2@hotmail.com
As opiniões expostas neste artigo vinculam exclusivamente os seus autores.
A 18 de dezembro de 1990, a Assembleia-Geral das Nações Unidas adotou pela Resolução 45/158 a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das Suas Famílias. Dez anos depois, esta data seria escolhida para assinalar o Dia Internacional dos Migrantes. Desde então, têm sido desenvolvidos novos instrumentos de proteção internacional dos direitos dos imigrantes, refugiados e requerentes de asilo, sobretudo no âmbito das Nações Unidas.
Contudo, estes esforços deparam-se invariavelmente com o mesmo obstáculo: são os Estados que definem o seu regime de fronteiras e migrações, dois aspetos centrais no próprio conceito de Estado-nação moderno. São as fronteiras que delimitam a extensão da soberania do Estado, enquanto o nacional se define por oposição ao outro não nacional (o migrante), excluído da comunidade política. No caso da União Europeia (UE), a comunidade europeia transnacional é definida por exclusão do “não europeu”, (segundo critérios raciais, culturais e socioeconómicos de pertença mais ambíguos).
Nesta equação, os migrantes tendem a ser representados discursivamente como um outro indesejável e perigoso. Nesse sentido, a sua presença é automaticamente “desestabilizante” porque põe em causa a ideia de homogeneidade cultural como fundamento da integração social e política no Estado-nação, i.e., critério de distribuição de direitos políticos e sociais (incluindo a nacionalidade, o acesso aos serviços públicos e a condições de trabalho e habitação dignas).
Nas últimas décadas, a crise do Estado social e da legitimidade política dos governos instalou um clima de insegurança na população europeia, agravado pelas políticas neoliberais e pelos ataques terroristas do 11 de setembro. Este contexto propiciou a apropriação da representação negativa dos migrantes (tradicionalmente associada a movimentos nacionalistas e xenófobos) pelo discurso oficial como forma de desresponsabilização. Enquanto se convencia a população da urgência em privilegiar os nacionais (para não sobrecarregar o Estado) e da necessidade de colocar um travão aos fluxos migratórios (pela sua ligação com ameaças à segurança interna como o terrorismo e o tráfico de seres humanos), os governos demitiam-se do dever de garantir o bem-estar social da população e justificavam medidas controversas como a intervenção nos assuntos internos de outros Estados e o aumento da vigilância e controlo das populações.
Esta interpretação tem vindo a dominar os discursos e práticas políticas na UE e revela um processo mais amplo de securitização e criminalização dos migrantes, iniciado na década de 1980, em contradição com os princípios de solidariedade e respeito pelos direitos humanos invocados pela UE como fundamento da sua autoridade moral. Com efeito, a política de migração e asilo foi, desde o início, tratada como uma questão de segurança interna do espaço Schengen, equivalente ao combate ao terrorismo e, por isso, exigindo a intervenção do aparelho de segurança dos Estados.
No pico da crise migratória em 2015, mais de um milhão de migrantes entraram na UE e a resposta de vários Estados-membros passou pela construção de muros nas zonas fronteiriças. Deste modo, o projeto idealista do espaço sem fronteiras preconizado pelo Acordo Schegen coexiste com a realidade violenta da “Europa Fortaleza”, impulsionada pela Hungria de Viktor Órban e apoiada por agências europeias como a Frontex (cujo orçamento tem aumentado significativamente a cada ano) e polícias fronteiriças nacionais (o equivalente português é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, cuja existência tem vindo a ser questionada no discurso público com o assassinato do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk). Além disso, os campos de refugiados construídos para acolher temporariamente refugiados oriundos de zonas de conflito, sobretudo do Médio Oriente, adquiriram um carácter permanente, prolongando o desespero e a miséria dos migrantes, sobretudo no atual contexto pandémico. Prova disso é a destruição provocada pelo incêndio no campo de Moria, na ilha grega de Lesbos.
Outra manifestação do endurecimento da posição europeia foi o abandono das operações de resgate e salvamento de migrantes (a operação Mare Nostrum do governo italiano foi desmantelada em 2014), levando à criminalização das ONGs que assumem essa responsabilidade (como a Sea-Watch), acusadas de tráfico de seres humanos. Em contrapartida, a UE assinou acordos com países terceiros (nomeadamente a Turquia e a Líbia) para controlar (impedir) os fluxos migratórios no Mediterrâneo, numa estratégia de “externalização” do seu regime de migração e fronteiras.
Como consequência das políticas europeias, o número de migrantes diminuiu efetivamente, mas a travessia é agora mais perigosa e o número de mortes em naufrágios aumentou drasticamente. Mas esta não é a única consequência da política europeia de externalização: ao mover a gestão das fronteiras e das migrações para longe do território europeu, delegando as respetivas competências nos países de origem, desresponsabiliza os países europeus pelas mortes de migrantes em naufrágios e torna as vítimas invisíveis, desumanizando-as.
Neste Dia Internacional dos Migrantes, é necessário contrariar as narrativas e políticas dominantes de securitização das pessoas migrantes e refugiadas, apoiando iniciativas promotoras do diálogo multicultural, da solidariedade e da justiça social. Em particular, o Fórum Social Europeu das Migrações (FSEM), que se realiza pela primeira vez em março de 2021 na cidade de Lisboa, poderá constituir um sólido ponto de partida para a organização de uma rede europeia de defesa dos direitos das pessoas migrantes.
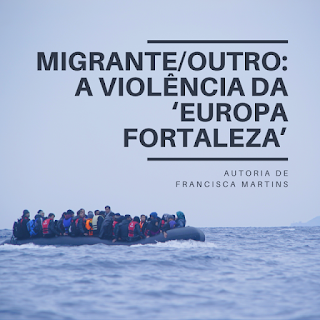


Comentários
Enviar um comentário