Dos vírus, das vacinas e outras profilaxias: os jovens, a política e a crise social
João Raimundo
Professor da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, em Almada
Ao contrário do que o título sugere, esta reflexão não tem por objeto o SARS-CoV-2, mas foi por ele desencadeada. Recordo-me que há décadas afirmávamos, num misto de certeza científica e fé de que não viria a acontecer que, no caso de uma hecatombe global, os únicos sobreviventes seriam os vírus. E eis senão quando, um vírus nos roubou vida tal como a conhecíamos e nos acordou para a crua realidade que, afinal, nesse tempo antecipávamos com relativa exatidão um futuro que é o atual presente.
A crise sanitária, sobreposta à ainda recente crise financeira e a consequente perturbação no equilíbrio socioeconómico, cronicamente instável, do nosso país, veio acicatar uma série de outras “viroses” que mantêm a nossa democracia em sobressalto porque nos afetam a todos, embora creia que o contágio seja particularmente assustador entre os mais jovens. Saliente-se:
A falta da memória histórica. Individualmente nunca se perde a memória, ao contrário das sociedades no seu todo. Quem viveu e, sobretudo, quem sentiu na pele a opressão, a limitação das liberdades, a pobreza, a ameaça da guerra colonial, a falta de expectativas de vida, etc., nunca esquece os traumas provocados pelo regime autoritário do Estado Novo. Mas à medida que as gerações mais velhas são substituídas pelas que já nasceram nos pós 25 de Abril, numa época de progresso no bem-estar socioeconómico, essas memórias traumáticas vão-se desvanecendo e a noção de direitos, liberdades, mais do que a dos deveres, é assumida como garantida. Para a maior parte dos jovens, voltar a uma ditadura é impossível. Será?
O egocentrismo e a perda do sentido de comunidade. O relativo bem-estar socioeconómico, alcançado sobretudo após a entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, permitiu o acesso das famílias a bens e serviços que até há poucos anos eram miragem. Essa transição do regime autoritário para a democracia e do isolacionismo para o multilateralismo europeu, foi também marcada uma máxima recorrente: “Quero dar aos meus filhos aquilo que eu não pude ter”. E muitos fizeram-no obstinadamente, dando-o. Gradualmente, “ter” passou a ser mais importante que “ser” e a satisfação dos desejos pessoais sobrepôs-se às causas comuns. Os problemas do bairro, do clube, da escola, da vila, do país, tornaram-se desinteressantes. Os ideais e as causas arrebatadoras esfumaram-se.
A construção do mundo nas redes sociais. Quando criança sujei-me, arranhei-me e rompi as calças na rua, a brincar com outras crianças. Um pouco mais velho sociabilizei-me com outros jovens na escola e em grupos paroquiais, a fazer jornais de parede, a editar panfletos, a tocar guitarra, a beber as primeiras bicas, a comentar os programas dos dois canais da Rádio Televisão Portuguesa e a debater sobre tudo e, sobretudo, com adultos com a prosápia de quem, por ter um grau de instrução superior, achava que já sabia tudo.
Eram estes os referenciais que nos ajudavam a formar a consciência do “eu”, do “eu com os outros” e do “eu“ no mundo. Mas os contextos mudaram. Hoje o receio dos pais em deixar as crianças brincar na rua e o fascínio tecnológico que aprisiona os jovens aos écrans, fazem com que as oportunidades de sociabilização sejam reduzidas e quase sempre mediadas por um gadget qualquer. Atualmente a conceção do mundo e da vida é construída com maior ênfase nas redes (ditas) sociais e nos canais de streaming, no isolamento do quarto, do que na família, no grupo de amigos, ou mesmo na escola. E como a web semântica procura incessantemente adaptar os serviços às preferências do utilizador, muitos jovens acabam por formar uma visão espartilhada e redutora, afunilada, em tudo semelhante à da milenar metáfora da alegoria da caverna. Mas há mais mundo. Para o descobrir é necessário sair do casulo.
O desencanto com a democracia representativa. A democracia trouxe de facto prosperidade económica e uma reconfiguração social que abriu aos jovens novas perspetivas de realização pessoal e profissional. Mas muitos não o consideram relacionável nem com o regime, nem com o sistema político, antes uma coisa natural quase que nascida por geração espontânea. Também porque, em muitas famílias, o tema nem sequer é abordado e, por outro lado, a Escola, encapsulada nos conteúdos disciplinares, foi-se revelando incapaz de assegurar uma verdadeira educação para a cidadania ativa, embora ela esteja sempre presente em todos os documentos oficiais. A verdade é que muitos jovens acabam a escolaridade sem terem uma noção, ainda que difusa, dos diversos regimes políticos no mundo, do Estado e do seu papel na sociedade, da importância da Constituição, da forma como são eleitos e quais as funções dos Órgãos de Soberania, das diferenças no espetro ideológico partidário, ou das implicações da integração de Portugal na União Europeia.
Acrescem os lugares comuns das conversas de café, com a associação sumária do conceito de Política a práticas desviantes de corrupção, de manipulação, de promessas irrealizáveis, de debates estéreis veiculados pelos media, muitas vezes com fundamento real em alguns maus exemplos que induzem generalizações como “querem é poleiro!”, “são todos farinha do mesmo saco!”, “é uma pessoa séria ou político?”, ou “parece que se matam, mas depois vão todos jantar fora!”.
E acrescem, ainda, as sucessivas crises, financeiras, económicas, demográficas, sanitárias, que desestabilizaram o equilíbrio económico de muitas famílias, desestruturaram as relações laborais e desvalorizaram o trabalho, aumentaram o desemprego e o subemprego e obrigaram muitos jovens, a tal geração mais bem preparada da nossa história democrática, a considerar a emigração como alternativa. As crises matam o otimismo e a esperança e alimentam a desilusão, o alheamento, o descontentamento e a revolta nas mentes menos esclarecidas e estruturadas.
Há uma enorme desconfiança com os nossos representantes nos Órgãos de Soberania que acentua o desinteresse e a indiferença pela Polis e muitos jovens não reconhecem no regime democrático a capacidade de encontrar respostas para os seus anseios, contribuindo para aumentar o exército dos abstencionistas nas eleições.
O populismo antissistema. O descontentamento e a falta de empatia com o sistema político são pasto para movimentos e partidos populistas que, essencialmente, não são a favor de nada - são antissistema. Todos assentam a sua ideologia na dicotomia “eles” e nós”, sendo que “eles” são os políticos corruptos que o sistema favorece e “nós” os impolutos e pobres cidadãos subjugados às mentiras e aos jogos de poder dos primeiros. Ora, qualquer pessoa, que tenha desenvolvido uma perceção, ainda que injustificada, de que está a ser vítima de um sistema que não a deixa concretizar os seus sonhos, se torna rapidamente sensível a esta argumentação, sobretudo se for veiculada por uma personalidade carismática a quem baste ser convincente pela oratória e não pelas ideias. Para além disso, a democracia representativa é um sistema complexo de organização do poder político que não é de apreensão imediata pelo que, atendendo à voragem e ao imediatismo que marcam a contemporaneidade, torna-se muito fácil que conceções alternativas, simplistas, maquiavélicas, que não requeiram estudo, tenham rápida aceitação e sem grande esforço. É o que, infelizmente, vou constatando cada vez mais frequentemente na minha vida profissional, em contacto com os jovens.
Haverá um tratamento preventivo para estas “viroses”?
Há, mas ao contrário de uma vacina em que se espera alguma imunidade logo após a inoculação, a profilaxia mais eficaz a muito longo prazo chama-se Educação/Formação. E nesse domínio, evidentemente, há várias dimensões a considerar, mas a Escola assume um papel primordial.
Já temos mais Escola; a escolaridade mínima é de doze anos; há cada vez menos abandono escolar e há cada vez mais jovens no Ensino Superior. Podemos e devemos pugnar por ter melhor Escola e, intencionalmente, não me estou a referir aos resultados académicos, mas à finalidade última (ou talvez a primeira) da Escola: “(…) uma educação escolar em que os alunos desta geração global constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base humanista. Para tal mobilizam valores e competências que lhes permitem intervir na vida e na história dos indivíduos e das sociedades, tomar decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais e éticas, e dispor de uma capacidade de participação cívica, ativa, consciente e responsável.”[1]
Reconheço que tem sido feito um esforço neste sentido pelo Ministério da Educação e que se têm dado passos decisivos, correspondendo, aliás, à ideia largamente consensual de que existe na nossa sociedade um défice (mais um…) de cidadania.
Sou professor do Ensino Secundário e, para além da minha área de formação, também leciono Cidadania e Desenvolvimento, tema Instituições Democráticas e Participação na Democracia. Quando inicio o trabalho com uma turma a reação dos alunos é invariavelmente de desagrado. Mas esse aparente fastio tem causas: as elencadas anteriormente às quais se adita que, ao longo de onze anos de escolaridade (este tema é desenvolvido no 11º ano), ninguém lhes tenha sistematizado estes assuntos. Ao fim de algum tempo esse preconceito inicial vai-se desconstruindo e, em muitos casos, consegue-se o efeito inverso, o que é muito importante atendendo a que muitos alunos já são eleitores.
Ninguém se dedica a algo a que não reconhece utilidade. Muitas vezes o que falta é apenas uma oportunidade.
[1] Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 2017, Ministério da Educação (DGE)
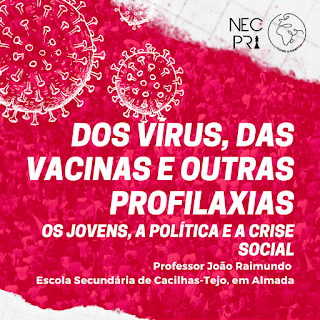


Comentários
Enviar um comentário